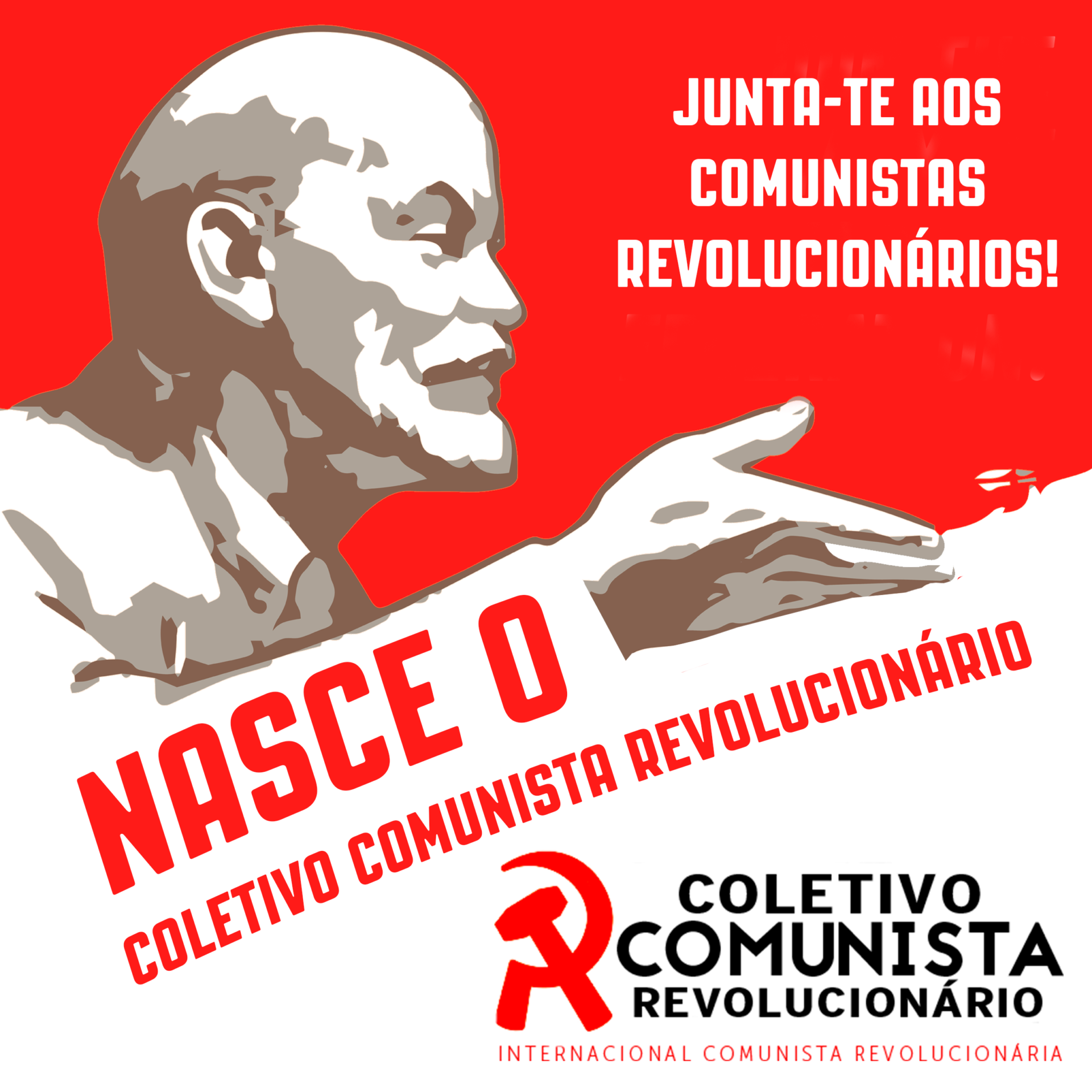Artigo de Niklas Albin Svensson
Trump está prestes a anunciar o seu novo pacote tarifário no que designou por “dia da liberdade”. Comentadores, políticos, diplomatas e presidentes de empresas estão a tentar perceber o que está para vir. Trump, como é caraterístico, deixou toda a gente à espera. Mas embora os pormenores não sejam claros, a direção da viagem é.
Trump está a preparar uma série de anúncios para o dia 2 de abril. Os direitos aduaneiros sobre os automóveis, anunciados a 26 de março, já provocaram nervosismo nos mercados, nomeadamente entre as marcas europeias e asiáticas fortemente dependentes do mercado americano.
Trump parece ter-se fixado nos 25% como uma boa taxa para os direitos aduaneiros. Anunciou tarifas a este nível para o México, para o Canadá, para o aço, para o alumínio e, agora, para a indústria automóvel. O seu objetivo é perfeitamente claro: quer forçar as empresas a deslocalizarem a produção para os Estados Unidos, e não apenas a montagem dos veículos, mas também o alumínio, a transmissão, os motores, etc. E não só para os automóveis, embora se trate de uma parte particularmente importante da economia mundial, mas também para os produtos farmacêuticos, etc.
Enquanto o México e o Reino Unido tentaram convencer Trump a retirar as tarifas, a China, a UE, o Japão e o Canadá estão a preparar-se para responder da mesma forma, e Trump ameaçou repetidamente retaliar, incluindo a meio da noite de 26 de março. Esta é a receita para uma guerra comercial. Não seria a primeira guerra comercial em que Trump se envolveria, é claro. Já se envolveu numa com a China no seu primeiro mandato, mas, desta vez, não é apenas a China, mas o mundo inteiro que está a enfrentar.
O que aconteceu nos anos 30
Estão a ser traçados paralelos imediatos com a década de 1930, e há alguns paralelos. Após o crash de Wall Street de 1929, as várias nações da Europa e dos Estados Unidos recorreram ao protecionismo para tentar exportar a crise.
Os Estados Unidos introduziram a lei Smoot-Hawley Tariff Act em 1930, aumentando as tarifas para uma média de 20 por cento. Esta medida e as medidas de retaliação adoptadas por outros países levaram as exportações e importações dos EUA a entrar em colapso. Tal como agora, o Canadá foi afetado e retaliou. Não é por acaso que Trump está agora a utilizar algumas medidas esquecidas dessa lei para impor esta última ronda de tarifas.
Inicialmente, a lei teve o efeito de reanimar a economia dos EUA, mas quando a recessão se instalou em 1931, na sequência do colapso do Creditanstalt na Áustria, os efeitos foram ainda mais graves.
Tanto as exportações como as importações dos EUA caíram cerca de dois terços e, em 1932, a produção industrial registou uma quebra de 46%.
Muitas nações europeias seguiram o exemplo. O Reino Unido introduziu a preferência imperial em 1932, o que tornou mais difícil exportar para o Reino Unido a partir do exterior do Império Britânico, e outros países, como a França, foram ainda mais longe no seu protecionismo.
Mas não foram apenas as barreiras comerciais formais que fizeram parte das novas relações comerciais. Um após outro, os países abandonaram o padrão-ouro. Ou seja, abandonaram a taxa de câmbio fixa entre a moeda (libra, dólar, franco, etc.) e o ouro.
O abandono do padrão-ouro implicou um colapso do valor da moeda, dando assim aos países em questão uma vantagem competitiva sobre os seus rivais. Não é, portanto, surpreendente que os países que se mantiveram mais tempo fiéis ao padrão-ouro (França, Estados Unidos) tenham tido de recorrer a medidas mais proteccionistas. Trotsky salientou este facto em 1934: “Os desvios do padrão-ouro destroem a economia mundial com mais êxito ainda do que os muros tarifários.”
Globalmente, o comércio mundial registou uma quebra de 66%, um golpe devastador para a economia mundial. O colapso da produção industrial na Alemanha foi de 41%, em França de 24% e no Reino Unido de 23%. Ao mesmo tempo, devido ao desemprego em massa e ao colapso geral da economia, o preço dos produtos caiu, agravando a crise endémica de sobreprodução. A crise não se deveu, evidentemente, ao protecionismo, mas o protecionismo foi uma consequência da crise, que, por sua vez, a exacerbou maciçamente.
A limitação do Estado-nação
A razão para tal reside no próprio desenvolvimento da economia. Os marxistas têm repetidamente salientado que, à medida que as forças produtivas (maquinaria, ciência, tecnologia, educação, etc.) se desenvolvem, entram em colisão com as fronteiras do Estado- nação. Lénine expôs este ponto de forma vigorosa em Imperialismo: A fase mais elevada do capitalismo, por exemplo.
Nesse livro, explicou como o imperialismo se desenvolveu à medida que os monopólios ultrapassaram o mercado nacional.
Ora, o que os políticos, pressionados pela crise, estavam a tentar fazer era tentar voltar atrás no tempo. Há um paralelo claro com a atualidade. Trotsky escreveu sobre a tentativa inútil:
“A tarefa progressiva de como adaptar a arena das relações económicas e sociais à nova tecnologia é virada de cabeça para baixo e passa a parecer um problema de como restringir e reduzir as forças produtivas de modo a adaptá-las à velha arena nacional e às velhas relações sociais. Em ambos os lados do Atlântico, não é pouca a energia mental desperdiçada em esforços para resolver o fantástico problema de como conduzir o crocodilo de volta ao ovo da galinha. O nacionalismo económico ultramoderno está irrevogavelmente condenado pelo seu próprio carácter reacionário; atrasa e reduz as forças produtivas do homem.”
E foi exatamente esse o efeito das várias medidas que os governos tomaram. Ao tentarem fazer recuar o relógio do desenvolvimento das forças produtivas, ao obrigarem-nas a entrar no colete de forças do Estado-nação, ou seja, do mercado nacional, conseguiram, não reanimar a economia, mas afundá-la na depressão.
No final, a economia reanimou-se de facto – após a destruição de enormes forças produtivas durante a Segunda Guerra Mundial, e com a ajuda dos Partidos Social Democrata e Comunista na estabilização do capitalismo. No Ocidente, o imperialismo americano saiu da guerra completamente dominante e a economia encontrou um novo equilíbrio.
Os EUA persuadiram o imperialismo francês, alemão e britânico a cooperar para reconstruir a Europa após a guerra. Foi criada uma nova instituição encarregada de abrir os mercados, o GATT, que gradualmente se transformou na OMC.
Na Europa, foi criada a Comunidade do Carvão e do Aço. Trotsky já tinha assinalado esta necessidade económica em 1923:
“No fundo da guerra [Primeira Guerra Mundial] estava a necessidade das forças produtivas de um espaço de desenvolvimento mais vasto, sem barreiras pautais. Do mesmo modo, na ocupação do Ruhr, tão fatal para a Europa e para a humanidade, encontramos uma expressão distorcida da necessidade de unir o carvão do Ruhr ao ferro da Lorena. A Europa não pode desenvolver-se economicamente dentro das fronteiras estatais e aduaneiras impostas em Versalhes. A Europa é obrigada a eliminar estas fronteiras ou a enfrentar a ameaça de uma completa decadência económica. Mas os métodos adoptados pela burguesia dominante para ultrapassar as fronteiras que ela própria criou só estão a aumentar o caos existente e a acelerar a desintegração.” (Será que o slogan “Os Estados Unidos da Europa” é oportuno?)
Já em 1923, por outras palavras, Trotsky previu a necessidade económica desta unidade económica, que unia precisamente as indústrias do carvão e do aço de França, da Alemanha Ocidental, dos Países Baixos e da Bélgica. Isto porque, nas pequenas nações da Europa, as limitações que o Estado-nação colocava ao desenvolvimento da economia eram ainda maiores.
Como sabemos, a Comunidade do Carvão e do Aço revelou-se insuficiente. Com o tempo, tal como o GATT, alargou o seu alcance e tornou-se a Comunidade Europeia e depois a União Europeia. Em todas as etapas, o imperialismo norte-americano esteve presente e apoiou a continuação da integração da Europa, porque isso lhe convinha na altura. A razão pela qual o âmbito limitado inicial destas organizações teve de ser alargado não é difícil de compreender, se partirmos do ponto de vista de que as forças produtivas, à medida que se desenvolvem, acabam por ultrapassar o Estado-nação.
Ou seja, à medida que os monopólios se desenvolviam na União Europeia, nas novas indústrias emergentes, como a indústria automóvel e a indústria química, eles esbarravam nas limitações do Estado-nação e precisavam de uma saída para o mercado europeu. Por conseguinte, foi necessário eliminar uma barreira atrás da outra. E como a economia, em geral, estava a crescer, era possível uma certa divisão amigável dos lucros. Isto era particularmente verdade porque os Estados Unidos, que possuíam as indústrias mais avançadas e produtivas, estavam lá para continuar a pressionar no sentido de um maior comércio livre.
A classe capitalista em geral beneficiou deste novo regime. Em particular, foi um regime de relativa estabilidade política e social. Os lucros eram suficientes para que fossem feitas concessões significativas aos trabalhadores. E, entretanto, a União Soviética estava lá como uma ameaça sempre presente.
Nestas condições e neste regime, foi possível uma nova retoma da economia. A produtividade do trabalho registou um enorme aumento, independentemente da medida. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, este facto foi acompanhado por aumentos correspondentes dos salários reais. Devido ao aumento da produtividade, os trabalhadores do Ocidente puderam ter um nível de vida como nunca tinham tido: casas, carros, televisores, educação, cuidados de saúde, pensões, etc.
Mas tudo isto se deveu precisamente ao facto de as forças produtivas poderem continuar a desenvolver-se sob um regime de especialização crescente, de maior liberdade de comércio, etc. A divisão mundial do trabalho era essencial para o desenvolvimento contínuo das forças produtivas.
A par deste desenvolvimento, surgiu naturalmente o desenvolvimento de monopólios maciços que dominavam o mercado mundial. As empresas menos produtivas – menos eficientes e sem a maquinaria mais avançada – faliram ou foram compradas pelos seus rivais maiores. Não é o momento de abordar esta questão em pormenor, mas se olharmos para qualquer indústria significativa – quer se trate de matérias-primas, componentes ou produtos acabados – hoje em dia, restam apenas algumas empresas.
Mas, contrariamente aos sonhos dos defensores do mercado livre, é precisamente a livre concorrência que dá origem a estes monopólios.
O protecionismo hoje
Voltando à questão de hoje, chegámos assim a um mundo muito mais desenvolvido e muito mais integrado economicamente do que no tempo de Trotsky. Desde 1960, a economia mundial aumentou, em termos reais, para cerca de oito vezes a sua dimensão. O volume do comércio mundial, no entanto, cresceu cerca de 20 vezes e, em termos de valor, ainda mais.
Quando os EUA embarcaram na sua onda protecionista em 1930, o rácio do comércio em relação ao PIB era de cerca de 9%, agora é mais de 25%. E para a indústria transformadora é ainda mais decisivo. O valor da produção da indústria transformadora dos EUA é de 2,3 biliões de dólares, mas o valor das exportações da indústria transformadora dos EUA é de 1,6 biliões de dólares. Isto não significa que 70% dos produtos manufacturados sejam produzidos para exportação (os componentes podem atravessar a fronteira várias vezes antes de chegarem ao produto final), mas mostra o grau de integração da indústria transformadora no mercado mundial.
Assim, quando os EUA e o resto do mundo embarcam agora numa nova farra protecionista, estão a fazê-lo a partir de um ponto de partida muito diferente. Se se quisesse, como dizia Trotsky, “fazer o crocodilo voltar ao ovo da galinha”, isso implicaria uma tremenda destruição das forças produtivas e uma miséria indescritível.
Os economistas burgueses estão bem conscientes deste facto, e é por isso que declararam “nunca mais” ao protecionismo. Mas, como tantos “nunca mais” económicos, como a impressão de dinheiro, teve de ceder ao desenvolvimento real dos antagonismos internacionais e de classe.
Trump não inventou o protecionismo. Atualmente, existem 4.650 restrições às importações entre os países do G20, de acordo com o Global Trade Alert, o que é 10 vezes mais do que em 2008. Os EUA estão a tentar cortar as asas da economia chinesa, o que têm vindo a tentar fazer desde 2018. Há tarifas de veículos eléctricos dos EUA e da UE contra a China. Há a Lei de Redução da Inflação de Biden, várias tentativas de subsidiar a produção doméstica de chips, e assim por diante. Tudo isto precedeu o segundo mandato de Trump. Esta era já a direção a seguir antes de ele voltar a entrar em cena.
Embora durante todo um período histórico o comércio mundial tenha crescido mais rapidamente do que a economia mundial, já não é esse o caso.
A guerra comercial de Trump é certamente uma aceleração nesta direção. Ninguém sabe até onde irá esta guerra, mas a agência Fitch Ratings especula que a taxa média das tarifas dos EUA poderá atingir 18%, contra 8%, o que seria o nível mais elevado desde 1934.
Os planos de Trump colocam dificuldades particulares para a economia mundial, cuja lógica não é apenas impor tarifas sobre o produto final (como os automóveis), mas sobre todos os componentes dos automóveis. Isto levanta a perspetiva de ser atingido, não apenas por uma tarifa única de 25%, mas de ter de a pagar várias vezes, em várias fases do processo de produção.
O Detroit Free Press cita um analista:
Cada vez que uma peça atravessa uma fronteira, é tributada”, afirmou. Um exemplo dado por Abuelsamid é o de um fabricante de automóveis que não quis dar o nome e que lhe disse que obtém do Japão os materiais necessários para fabricar cablagens. Esses materiais vão para o México para serem transformados em cablagens e depois essas cablagens são enviadas para o Texas para serem ligadas a um airbag. Estes são depois enviados de volta para a fábrica do fabricante de automóveis no México para serem instalados num assento de automóvel. Depois, o veículo é enviado de volta para os Estados Unidos”.
Quando a indústria automóvel estima que pode acabar por acrescentar algo entre $4.000 e $12.000 ao preço do carro, é a isto que se está a referir. Este arnês aqui é efetivamente tributado duas vezes. Isto significa também que os exportadores dos EUA perdem ainda mais capacidade de competir no mercado mundial, uma vez que os seus componentes têm de ser tributados várias vezes antes de serem exportados.
O que esta tarifa generalizada faz, e isto é provavelmente bastante deliberado do ponto de vista de Trump, é desativar as cadeias de abastecimento globais. Mas isto é extremamente dispendioso. A BMW, por exemplo, tem três fábricas principais na Europa que produzem motores, cada uma delas especializada em motores específicos para determinados modelos de automóveis. Construir outra fábrica para produzir motores apenas para o mercado dos EUA seria extremamente dispendioso. O mesmo se aplica a qualquer outra parte do automóvel que não seja já produzida nos EUA. Quaisquer contra-medidas da UE, da China e do Japão que afectem os componentes produzidos nos EUA irão inevitavelmente piorar ainda mais a situação. O efeito a longo prazo desta situação será o de fazer subir a inflação, causando ainda mais miséria à classe trabalhadora.
Uma posição proletária
Quais são então os interesses da classe trabalhadora em tudo isto? O líder do sindicato dos trabalhadores do sector automóvel dos EUA, UAW, Shawn Fain, saudou Trump “por dar um passo em frente para acabar com o desastre do comércio livre que tem devastado as comunidades da classe trabalhadora durante décadas”.
Não há dúvida de que ele tem razão. O desmantelamento da base industrial do Michigan teve um efeito devastador em toda a região. Mas não é possível voltar a pôr o génio na garrafa, e a tentativa de Trump de o fazer terá consequências devastadoras.
Também não podemos defender a política de comércio livre, precisamente porque foi ela que nos trouxe até este ponto. A política do comércio livre é a política do encerramento de fábricas, da destruição de comunidades, tudo com a promessa de que, a longo prazo, tudo será para melhor.
Os sociais-democratas alemães, nas vésperas da vitória de Hitler, propuseram precisamente essa política insana. Deixem que a crise se abata sobre a classe trabalhadora – no final, tudo acabará por correr pelo melhor. Só que o caminho para o equilíbrio económico passava pelo fascismo e pela guerra mundial. Hoje, isso não está previsto para o futuro imediato, mas a miséria que o capitalismo de comércio livre traz está à vista de todos.
Trotsky indica exatamente como o fim do comércio livre está ligado à própria crise:
“A liberdade de comércio, como a liberdade de concorrência, como a prosperidade da classe média, pertence ao passado irrevogável. Trazer de volta o ontem, é agora a única prescrição dos reformadores democráticos do capitalismo.”
Os defensores de ambos os lados – comerciantes livres e proteccionistas – querem restaurar a sociedade ao seu estado anterior à crise, mas nenhum deles tem capacidade para o fazer. Nem a restauração da liberdade de comércio, nem a construção de novas barreiras pautais resolverão a crise.
A verdade é que foi precisamente o desenvolvimento das forças produtivas e do mercado mundial que tornaram impossível o capitalismo nacional e criaram a maior crise económica que o mundo alguma vez conheceu. Toda a situação é uma situação em que as forças produtivas estão a revoltar-se contra o Estado-nação e a propriedade privada. Deixamos as últimas palavras para Trotsky:
“Por conseguinte, para salvar a sociedade, não é necessário nem travar o desenvolvimento da técnica, nem fechar as fábricas, nem atribuir prémios aos agricultores para sabotar a agricultura, nem transformar um terço dos trabalhadores em indigentes, nem chamar maníacos para serem ditadores. Nenhuma destas medidas, que são um escárnio chocante dos interesses da sociedade, é necessária. O que é indispensável e urgente é separar os meios de produção dos seus actuais proprietários parasitas e organizar a sociedade de acordo com um plano racional. Então, seria possível curar efetivamente a sociedade dos seus males. Todas as pessoas capazes de trabalhar encontrariam um emprego. A jornada de trabalho diminuiria gradualmente. As necessidades de todos os membros da sociedade seriam cada vez mais satisfeitas. As palavras “propriedade”, “crise”, “exploração”, sairiam de circulação. A humanidade atravessaria finalmente o limiar da verdadeira humanidade.”
 Coletivo Comunista Revolucionário Comunistas Revolucionários de Portugal
Coletivo Comunista Revolucionário Comunistas Revolucionários de Portugal